|
Há coisas que nos enchem de orgulho. Este conto, proposto pelo Laboratório de Escrita e criado pela Júlia Domingues, participante de um dos nossos workshops de escrita criativa, é uma delas. Não deixem de ler, prometemos que não se vão arrepender! "A tarde tinha-se posto cinzenta. As grossas nuvens vaticinavam o resto do dia e a aragem fria desassossegava as escassas folhas que ainda permaneciam em cima das árvores. As ruas da parte baixa da cidade adensavam-se de pessoas, que calcavam os paralelos da calçada portuguesa de forma aleatória. Lá ao fundo, numa ruela esquecida pela vida, passava Mário, o amolador que trazia a chuva. A melodia atrapalhada que saía da sua gaita de pã atraía os mais pequenos para os beirais das janelas.
— Lá está este a chamar a chuva! – Diziam os velhos, com o cigarro na ponta dos dedos e com o olhar pregado ao céu. Mário, homem para os seus quarenta e muitos anos, acordava, todos os dias, antes do sol despertar. Cambaleava até à casa de banho e, de fronte para o pequeno espelho, desfazia a barba com a ajuda do velho pincel de pelo de marta. No cabelo, actualmente grisalho, espalhava uma brilhantina barata e amaciava o farto bigode com o que restava do produto. O pai de Mário – um homem rude e de pouca formação – havia pegado nele, depois de Mário ter chumbado no quarto ano de escolaridade, e confinara-o à pequena oficina, onde as facas e as tesouras passaram a ser os brinquedos da sua mocidade. O que o pai lhe deixou do ofício faltou-lhe em amor. — A vida é mesmo assim, ou matas ou morres! – Disse-lhe o patriarca, numa manhã fria de inverno, antes de enfiar umas roupas na mala de viagem e abalar de casa para nunca mais voltar. Aos quinze anos, Mário viu-se entre o fio da navalha e uma mãe moribunda deitada numa cama sem asseio. No dia a seguir ao pai ter abandonado o lar, Mário acordou mais cedo do que o costume. Saiu de mansinho, para não acordar a mãe, e desceu a rua até à oficina, que o recebeu com uma parafernália de velhos objectos. Entre eles, destacava-se a gaita de pã, deixada pelo pai, no dia anterior, em cima da bancada. Nessa manhã, com o choro preso entre a garganta e o esófago, Mário tocou, pela primeira vez e sozinho, uma melodia que o acompanharia no desespero dos dias. Era assim há mais de trinta anos. Não sabia fazer as coisas de outra forma. Todas as manhãs, depois de comer um papo-seco e de beber uma caneca de café com leite, deixava o pequeno-almoço na mesinha de cabeceira do quarto da mãe e saía de casa com os bolsos vazios de dinheiro e com coração cheio de esperança. Esperançava-se que a vida melhorasse ou que o pai, um dia, voltasse. Mas nem a vida melhorou e nem o pai voltou. A esperança finou-se de vez no dia em que Mário encontrou a mãe sufocada no próprio vómito. Desde esse dia que não voltou a tocar a gaita de pã. No dia do funeral da mãe, atirou-a para um canto da oficina e deixou-a caída entre as varetas partidas e as lâminas cegas das facas sem uso. Além de chamar a chuva, como sempre ouviu os outros dizerem, acreditava que era a gaita de pã que lhe enxotava a pouca sorte que tinha. Mário sobreviveu como pôde. Casou novo, com um sim arrancado a ferros, depois de ter namorado Noémia durante três anos. Noémia, mulher de anca larga e mãos de pele grossa, gritava os melhores pregões de Lisboa e arredores. Tinha uma banca na praça há mais de dez anos e o sonho de conhecer o mundo. Um dia, Noémia não regressou da praça. Mário, sentado na cozinha em frente a um prato vazio – que nunca chegou a ser servido – esperou-a o resto do dia. Nessa noite, deitou-se sem comer. No bairro corria à boca pequena que Noémia tinha fugido com um marinheiro, que tinha vindo a terra procurar mulher, e que prometeu levá-la a conhecer o mundo. Diz-se que, nesse dia, Noémia nem esperou para limpar a banca da praça. Atirou o avental para o chão, pejado de escamas, e abalou sem olhar para trás. Do casamento, Mário guarda o álbum de fotografias a preto e branco e a aliança na primeira gaveta da mesinha de cabeceira. Mário não voltou a casar. Resignou-se ao igual dos dias e aceitou, sem reservas, que a vida nada mais lhe reservava senão uns parcos, mas fiéis clientes, que lhe dava para pôr o pão na mesa. De manhã, percorria as ruas da parte velha da cidade e de tarde recolhia à penumbra da oficina, onde se entretinha a reparar aquilo que os outros tinham dado como sem concerto. Naquela manhã, o sol teimou em não aparecer. A aragem era fria e a chuva ameaçava cair a qualquer instante. Antes de sair para a rua, para mais um dia igual ao anterior, que tinha sido igual aos anteriores, Mário passou pela oficina para reparar a mó. Há uns dias que a sentia mais perra do que o habitual. Procurou umas ferramentas velhas no meio de outras ferramentas velhas e viu a gaita de pã caída num canto da oficina. Agachou-se e pegou nela. Já não se lembrava de como ela soava, nem tão pouco se lembrava porque a tinha atirado ao chão, há mais de vinte anos. Sacudiu-lhe o pó soprando para as palhetas e, aos poucos, o som começou a formar-se entre um sopro e outro. Meteu a gaita ao bolso e saiu. A manhã tinha sido fraca. Antes de fazer uma pausa para almoçar na tasca do Arménio, como acontecia todos os dias desde que a mulher saiu de casa, Mário jogou as mãos aos bolsos para contar as moedas. À porta da tasca, balbuciou: — Arménio, isto hoje não chega para o prato do dia e para meio jarrinho de vinho, posso pagar o resto amanhã? — Porra Mário, é sempre a mesma coisa. Isto está mau para todos, ouviste? Qualquer dia acaba o fiado. – Disse-lhe o dono da tasca enquanto enchia meio jarro de vinho directamente da pipa e o punha à frente de Mário que, entretanto, se sentou ao balcão de costas para a porta. Ao longe, o televisor da tasca debitava um som abafado que, entre o burburinho dos clientes e o tilintar dos pratos e talheres, não permitia descodificar o que o jornalista dizia. Foi um dos clientes que deu o alerta: — Arménio, põe o raio da televisão mais alto. Não se ouve o que o jornalista está a dizer e parece que está a acontecer alguma coisa. Todos tomaram atenção ao televisor. Todos menos Mário. Já nada lhe interessava, já nada lhe roubava a atenção. A vida havia-lhe tirado tudo e ele era apenas o que restava do somatório dos dias iguais. Assim, Mário ignorou que o jornalista estivesse a informar os telespetadores, em notícia de última hora, que se encontrava a monte um assassino fugido do estabelecimento prisional de Lisboa, há pouco mais de duas horas, e que tinha sido avistado, nos últimos minutos, na parte baixa da cidade de Lisboa. A agitação dentro da tasca do Arménio foi imediata. Uns juntavam os talheres com o olhar colado à televisão, outros emborcavam à pressa o que restava dentro dos copos mal lavados. Os comentários não tardaram: — O assassino anda à solta! — Ainda não o conseguiram apanhar. — Foi visto aqui perto. O resto conta-se por si. O cheiro a medo e a valentia esmorecida no rosto de cada cliente espelhava o pânico que estava prestes a instalar-se nas paredes da tasca. De costas para a porta e para a vida, Mário contava as moedas, espalhadas no balcão, e preparava-se para sair. No minuto seguinte, alguém entrou de rompante no acanhado estabelecimento e agarrou Mário pelo pescoço. Um braço robusto e imundo abraçava-lhe o pescoço, suprimindo o pouco ar que lhe restava nos pulmões. — É ele! Assassino! Assassino! Num acto involuntário, Mário, com a pouca força que lhe sobrava, enfiou a mão no bolso das calças coçadas e alcançou a navalha ponta e mola – o único presente que o pai lhe oferecera. Num impulso rápido e fugaz, Mário jogou o braço direito por cima do ombro esquerdo e, com a calma de quem já não tem pressa de viver, enterrou a ponta e mola no pescoço do homem. Aos poucos, sentiu o ar a voltar aos pulmões e a respiração a desengasgar-se. Antes de se virar para ver quem o tinha atacado, proferiu: — A vida é mesmo assim, ou matas ou morres! * Quando a polícia chegou à tasca do Arménio, a poça de sangue, oriunda do pescoço do homem, ocupava mais de metade do chão de mármore. Um corpo, inerte e disforme, jazia junto aos bancos altos de inox que preenchiam o comprido balcão da tasca. Mário, com uma inexpressividade no rosto fora do comum, fincava o corpo contra uma parede fria e suja. Não se lhe ouviu uma única palavra. Não riu, não chorou, não se entregou à culpa nem apelou por inocência. Olhava fixamente para o homem que tinha acabado de matar para evitar, quem sabe, de ser morto. Quando a polícia o algemou, Mário não ofereceu qualquer resistência. No televisor, a emissão tinha sido interrompida para dar conta aos telespectadores que o assassino, fugido do estabelecimento prisional de Lisboa, tinha sido morto com um golpe de uma navalha ponta e mola na veia jugular e que teve morte imediata. Antes de sair da tasca do Arménio, o agente de autoridade perguntou a Mário: — Conhece a vítima? — Conheço. – Respondeu prontamente. – É o meu pai! Para trás, junto ao corpo, estava a gaita de pã, a mesma que continuava a enxotar a pouca sorte que Mário tinha na vida."
0 Comentários
Deixe uma resposta. |
Histórico
Fevereiro 2024
Categorias
Tudo
|
Laboratório de Escrita
Escrever é poder.
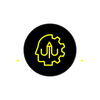

 Feed RSS
Feed RSS